[*] Texto extraído do rabalho realizado para a cadeira de Arte e Tecnologia, Mestrado de Teorias da Arte, FBAUL, 1998. Lecionada pela Prof. Dr.ª Margarida Calado.
[1] Raul Lino, A casa portuguesa. Exposição de Sevilha, in José Cassiano Neves, 1995, pp. 16 e 135.
[2] Segundo Alexis Collot Jantillet, «natural do ducado de Lorena, foi secretário do irmão de D. João IV, o Infante D. Duarte (1605-1649), quando este esteve na Alemanha como oficial de Filipe IV. Depois da morte do Infante, Jantillet passou a Portugal, onde já se devia encontrar em 1659, data da publicação, à custa de Pedro Çurita, livreiro de Lisboa, de Abucilla (Ruão, 1659). Nomeado “oficial de línguas na Secretaria de Estado”, passa a receber em 1665 sessenta mil reis de tença. Foi-lhe outorgado por volta de 1669 o hábito de Cristo. Poeta neolatino, publicou o já citado Abucilla dedicado ao infante D. Duarte, Helvia Obsidione Liberata auspiciis Alphonsi 6 (Lisboa, 1662), sobre a batalha das Linhas de Elvas e Horae Subsecivae (Lisboa, 1679), dedicado ao segundo marquês de Fronteira e terceiro Conde da Torre, Fernando Mascarenhas (1665-1729). Jantillet foi membro da Academia dos Generosos desde 1660» in Luís de Moura Sobral, Pintura e Poesia na Época Barroca, Editorial Estampa, Lisboa, 1994. p.31.
[3] As letras portuguesas do séc. XVI renascem na atmosfera neoclássica com o apoio de traduções que vêm a lume (Cândido Lusitano, por exemplo, traduz a Arte Poética de Horácio, as tragédias Édipo de Sófocles, Medeia, As Fenícias, Ifigénia em Àulide e Ifigénia em Táuride, entre outras, de Eurípides) e reedições de clássicos portugueses.
[4] Apolo é o símbolo da vitória sobre a violência, da aliança entre a paixão e a razão. Nasceu no sétimo dia do mês: a sua lira tinha sete cordas, o 7 é o número da perfeição, aquele que une simbolicamente o Céu e a Terra e também o número de Apolo.
[5]Surgiram em Portugal a Academia dos Generosos (1647), a Academia dos Singulares (Lisboa, 1663), a Academia dos Anónimos (1714), a Academia dos Solitários (1664), a Academia dos Únicos (1691), a Arcádia Lusitana (1757), a Academia das Belas Artes (1790), logo chamada Nova Arcádia.
Da Academia dos Generosos e dos Singulares, disse D. Francisco Manuel: «Com epítetos particulares se apelidaram todos os académicos do mundo: Confiados se chamaram os de Pavia; Declarados, os de Siena; Elevados, os de Ferrara; Inflamados, os de Pádua: Unidos, os de Veneza...».
Marieta Dá Mesquita refere a relação de D. João de Mascarenhas com a Academia dos Generosos na sua tese de Doutoramento. 1993, Vol. I, pp.402-405.
[6] Ana Paula Correia-Arnould, in Monumentos, nº7, p.61.
[7] O sete é o número da perfeição, aquele que une simbolicamente o Céu e a Terra, o princípio feminino e o princípio masculino, as trevas e a luz. Ora, é também o número de Apolo.
[8] Em conversa com D. José de Mascarenhas foi-nos dito que por motivos de infiltrações de águas, dentro do Palácio, causada pela deterioração das canalizações, estas foram desactivadas remontando, provavelmente, em tempo anterior à sua mãe.
[9] É nossa opinião que os jardins do Palácio Marquês da Fronteira são de inspiração renascentista italiana e em particular nas Vila Madona e Vila Aldobrandini. Ramalho Ortigão (in Arte e Natureza em Portugal) refere esta analogia descrevendo o Palácio Marquês da Fronteira como uma «edificação cheia de interesse arquitectónico e decorativo, desde o pórtico brasonado, à escadaria de balaústres, o vestíbulo de entrada, onde sempre soa a voz plangente da água, até às deliciosas varandas que abrem sobre os jardins. É flagrante, na silhueta geral dos dois terraços em loggias sobrepostas a um vasto lago, a analogia desta composição, de gosto e estilo da Renascença italiana, com a Vila Madona, obra de Júlio Romano e de Rafael, hoje mui arruinada, em Roma.»
[10] Jean Chevalier, in Dicionário de Símbolos.
[11] Segundo conversa com Liliana Prestes de Almeida a Metamorfoses de Ovídio foi a obra que serviu de expressão ao programa do Palácio.
[12] Homero, Ilíada, canto XX, Europa-América, 1988, p.285.
[13] Cesare Ripa, Iconologia, p.164.
[14] Jean Chevalier, in Dicionário de Símbolos.
[15] Idem, Ibidem.
[16] Esta escultura de Apolo (Sol), como a de Saturno, assenta numa base arredondada.
[17] Cesare Ripa, Iconologia, p.167.
[18] Ocupa erradamente, na Galeria das artes, a posição de Marte do sistema geocêntrico.
[19] Jean Chevalier, in Dicionário de Símbolos.
[20] Conforme a teoria Geocêntrica.
[21] Ocupa erradamente, na Galeria das artes, a posição de Júpiter do sistema geocêntrico.
[22] id. ibidem.
[23] Esta escultura de Saturno, como a de Apolo (Sol), assenta numa base arredondada.
[24] id. ibidem.
[25] Cesare Ripa, Iconologia, p.170. citando Bocaccio, lib. IV., na sua Genealogia dos Deuses
[26] Erwin Panofsky diz que “muitos dos trabalhos científicos, especialmente tratados de astronomia, onde imagens mitológicas aparecem tanto entre as constelações (como Andrómeda, Perseu, Cassiopeia) como entre os planetas (Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vénus, Mercúrio, Lua)”. in Estudos de Iconologia, p.33.
[27] Jean Chevalier, in Dicionário de Símbolos.
[31] in Monumentos, número 7. p.114.























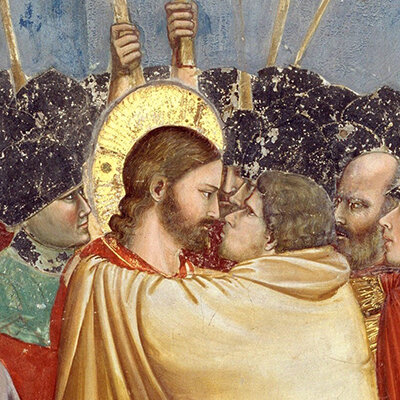





![Apolo (Sol)[16]:«Representa-se o Sol por uma figura (masculina) jovem e nua. Tem o braço direito estendido que sustém com a mão aberta três figurinhas que representam as três Graças. Com a esquerda segura um arco e as setas, aparecendo morta a seus …](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/56353039e4b00b97e61e0411/1586125799266-SWLRMLML3KNLQ47LK4TV/APOLO)
![Júpiter (Júpiter)[18]:«Deus supremo dos romanos, correspondente ao Zeus dos gregos. Ele aparece como a divindade do Céu, da luz diurna, das condições climatéricas e também do raio e do trovão... o poder soberano, o presidente do concílio dos deuses,…](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/56353039e4b00b97e61e0411/1586125850403-H7FC4ZS0A8FWH197W3XO/JUPITER)
![Marte (Marte)[21]:«Deus da Guerra, ares é filho de Zeus e de Hera. Brilhantemente armado de elmo, couraça, lança e espada, simboliza a força bruta, a dos que se vangloriam do seu tamanho, peso, rapidez, tumulto, capacidade de massacre e de troçar da…](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/56353039e4b00b97e61e0411/1586125896128-C5Z9IGS3Y6UW53V22KDB/MARTE)
![Saturno (Saturno)[23]:«É o planeta maléfico dos astrólogos, cuja luz triste e fraca foi, desde os primeiros tempos, evocadora de tristezas e provações da vida e que a alegoria representa com traços fúnebres de um esqueleto com uma foice[24]». Na fig…](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/56353039e4b00b97e61e0411/1586125937654-QZE061Z34FM687M8OJHB/SATURNO)


