Ó sedentos de poesia
libertai o néctar
das rolhas
que o oprimem

Ó sedentos de poesia
libertai o néctar
das rolhas
que o oprimem

Edouard Manet, Jeanne Duval: La Maîtresse de Baudelaire, 1862
watercolour,
(17 x 24 cm)
Kunsthalle, Bremen, Germany
Manet tinha 30 anos quando pintou esta horrível e triste aguarela. Uma perna desarticulada que sai de um vestido rodado sem se antever implicitamente a ligação estrutural com o restante corpo, uma mão desproporcionada suspensa no canapé e um rosto melancólico deixa antever a decadência de um corpo que outrora foi símbolo de sensualidade, de beleza, de transgressão e de mistério. Trata-se de um esboço. Um apontamento rápido de alguém que mereceu atenção. Um estudo preparatório para uma pintura a óleo do mesmo autor[1]. O seu nome era Jeanne. Jeanne Duval era uma mulher mestiça, “négresse”, que viveu em Paris. Os seus traços exóticos não passaram desapercebidos ao gosto parisiense e em particular a Charles Baudelaire. Viveu numa Paris que se rebelava contra o “bom gosto” das academias. Numa cidade que pululava de vida e de progresso. Numa comunidade artística que paulatinamente se insurgia contra o conformismo romântico. É nesta nova realidade que a Jeanne Duval se move. Uma mulher de vida dissoluta, bailarina e amante incondicional.
Não sabemos as suas origens (provavelmente vinda do Haiti), nem o seu verdadeiro apelido (Duval, Lemer, Naeltjens, Prévost, Prosper, foram também usados), nem a sua data de nascimento, nem a data da sua morte. Uma identidade mantida em segredo, suportada pelo preconceito racista da sociedade francesa do século XIX e pela vida arrebatada vivida nos extremos. Os seus mais directos delatores haveriam de a acusar de perversões, de ser inculta, ou simplesmente condená-la ao ostracismo. Eis o retrato mais fiel de uma mulher que teima permanecer incógnita e, ao mesmo tempo, nos fascina. Courbet no quadro Atelier do Pintor[2], 1855, retratou-a junto do seu amante. Porém, descreve-a como uma “negra ao espelho”, que se encontra no lado direito por cima de Baudelaire a ler e como forma de justificar o seu acto apaga-a do escol de amigos do pintor. É um fantasma na tela do pintor, é um borrão. Provavelmente terá sido uma maneira eufemística de justificar o estigma racista!? Ou foi para evitar algum escândalo? Espantem-se! O próprio Courbet, autor do quadro “L’Origine du monde[3] - A Origem do Mundo” (1866), a censurar a figura incómoda. Não me parece verosímil. Jeanne dá-se a conhecer através das camadas de tinta sobrepostas que teimam a ocultá-la. Jeanne não é uma figura retratável, ou passível de apresentação pública (talvez porque Courbet tenha apresentado este quadro a um Júri para a Feira Mundial de Paris, 1855, e não quisesse ferir o “bom gosto” dos jurados[4]). Não há margens para dúvidas de que a figura, quase impercetível a assombrar a pintura, é a Jeanne Duval. Encontramo-la no preconceito que a tentou rasurar. Adivinhamo-la na misteriosa história de um amor tempestuosa mantida com Charles Baudelaire. A verdadeira Jeanne Duval é aquela que corre como se fosse um fluido na pena do “poeta maldito”. Sabemo-lo nas imagens poéticas vertidas em suor e ardor romântico em “Flores do Mal”.

Gustave Courbet, Atelier do Pintor, 1855. [361X598 cm] Museu D’Orsay
Baudelaire depois de ter recebido uma avultada herança acomodou Jeanne (a sua “vénus negra” conforme Baudelaire gostava de chamar) num apartamento perto de si, na Île de la Cité. O poeta não lidou bem com a gestão da fortuna recebida e um ano passado a vida de desafogo se tinha esvaído. Porém, Jeanne Duval não era simplesmente a sua amante, era a fonte, uma carniça[1], vivida e testemunhada pelo poeta:
...
As pernas para o ar, como uma mulher lasciva,
Entre letais transpirações,
Abria de maneira lânguida e ostensiva
Seu ventre a estuar de exalações.
...

“negra ao espelho”
A amante que o poeta mais amou era símbolo da beleza perigosa. Jeanne era o mistério de uma mulata, a paixão, a transgressão, o corpo poiético para Baudelaire. Ela era a “amante das amantes” dedicando-lhe vários poemas (Le Balcon, Parfum exotique, La chevalure, Sed non satiata, Le sepent qui danse e Une charogne). Tendo sido considerada uma literatura obscena[2] pelo promotor Ernest Pinard que condenou o autor e o seu editor, justificando “insultar a moralidade pública e religiosa e a boa moral”. Se a condenação abalou o frágil corpo do poeta, a “négresse” transformou-se em ópio para a sua escrita poética. Os amantes entregaram-se a uma vida de excessos, álcool e drogas. Abatido pelo julgamento, mas não pela paixão, Baudelaire procurava a essência dos seus próprios limites criativos. Haveriam de partilhar também a doença degenerativa (sífilis) que lhes foi fatal. O “poeta maldito” morreu sem que não deixasse de mencionar o seu tormento: “quis extrair a quinta essência de tudo, [e a “négresse”] deu-me a sua lama e eu transformei-a em ouro”. A mulher que inspirou alguns dos mais belos poemas deste período [realismo oitocentista] definhou passados alguns anos. Morreu sem deixar o seu testemunho. O seu rasgo indelével e tumultuoso com o poeta emergiu em “As Flores do Mal”, onde Baudelaire anotou: “Neste livro atroz, pus todo o meu pensamento, todo o meu coração, toda a minha religião (travestida), todo o meu ódio”.
Deixemo-nos embriagar pelo génio das Flores do Mal, que tanto perturbou a sociedade parisiense, e acantonemo-nos na assombrada aparição. Jeanne é um fantasma na nossa consciência colectiva: o racismo.
Texto, 2023 © Luís Carvalho Barreira

Jeanne Duval (Lemer, Naeltjens, Prévost, Prosper)
Fotografada por Félix Nadar
Uma Carniça [As flores do mal, Charles Baudelaire]
Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos
Numa bela manhã radiante:
Na curva de um atalho, entre calhaus e ramos,
Uma carniça repugnante.
As pernas para cima, qual mulher lasciva,
A transpirar miasmas e humores,
Eis que as abria desleixada e repulsiva,
O ventre prenhe de livores.
Ardia o sol naquela pútrida torpeza,
Como a cozê-la em rubra pira
E para o cêntuplo volver à Natureza
Tudo o que ali ela reunira.
E o céu olhava do alto a esplêndida carcaça
Como uma flor a se entreabrir.
O fedor era tal que sobre a relva escassa
Chegaste quase a sucumbir.
Zumbiam moscas sobre o ventre e, em alvoroço,
Dali saiam negros bandos
De larvas, a escorrer como um líquido grosso
Por entre esses trapos nefandos.
E tudo isso ia e vinha, ao modo de uma vaga,
Que esguichava a borbulhar,
Como se o corpo, a estremecer de forma vaga,
Vivesse a se multiplicar.
E esse mundo emitia uma bulha esquisita,
Como vento ou água corrente,
Ou grãos que em rítmica cadência alguém agita
E à joeira deixa novamente.
As formas fluíam como um sonho além da vista,
Um frouxo esboço em agonia,
Sobre a tela esquecida, e que conclui o artista
Apenas de memória um dia.
Por trás das rochas, irrequieta, uma cadela
Em nós fixava o olho zangado,
Aguardando o momento de reaver àquela
Carniça abjeta o seu bocado.
– Pois há de ser como essa coisa apodrecida,
Essa medonha corrupção,
Estrela de meus olhos, sol da minha vida,
Tu, meu anjo e minha paixão!
Sim! Tal serás um dia, ó deusa da beleza,
Após a bênção derradeira,
Quando, sob a erva e as florações da natureza,
Tornares afinal à poeira.
Então, querida, dize à carne que se arruína,
Ao verme que te beija o rosto,
Que eu preservarei a forma e a substância divina
De meu amor já decomposto!
[1] Título do poema: Baudelaire, Charles, As Flores do Mal, Editora Relógio D’Água, 2003. Tradução: Maria Gabriela Llansol
[2] Em 1857, seis poemas considerados particularmente infames foram retirados da venda e só em 1949 essas “peças condenadas” foram reintegradas em Fleurs du mal.
[1] Edouard Manet, La Maîtresse de Baudelaire, 1862, oil on canvas, 90 x 113 cm, Szépmüvészeti Müzeum, Budapest, Hungary
[2] A obra tem como título “O Atelier do Pintor”, seguido de um subtítulo muito sugestivo: “Alegoria Real que define uma fase de sete anos da minha vida artística e moral”. “Em Paris, no Museu d"Orsay, encontra-se uma obra monumental de Gustave Courbet, uma alegoria real, pintada em 1855, intitulada O Ateliê do Pintor. A pintura representa o artista diante da tela, rodeado dos seus modelos.” in site RTP
“No primeiro grupo, os da direita, podemos reconhecer o perfil barbudo do colecionador de arte Alfred Bruyas, e atrás dele, de frente para nós, o filósofo Proudhon. O crítico Champfleury está sentado em um banquinho, enquanto Baudelaire está absorto num livro. O casal em primeiro plano personifica os amantes da arte e, perto da janela, dois amantes representam o amor livre”. in site: Musée d’Orsay
[3] Gustave Courbet, L’Origine du monde, 1866. (46X55 cm) Musée d’Orsay. Assunto: vulva, mulher.
[4] Esta obra foi recusada pelo júri da Feira Mundial de Paris de 1855. Courbet, com a ajuda de Alfred Bruyas, abriu sua própria exposição (O Pavilhão do Realismo) perto da exposição oficial; este foi o precursor dos vários Salon des Refusés.

William Turner, Death on a pale horse (?), c.1825-30
Cavalgar em memórias revoltas.
No início da carreira artística, William Turner (1775-1851), pintou pitorescas paisagens inglesas arrecadando elogios dos seus comissários galeristas e coleccionadores de arte. A pintura e o sucesso artístico de Turner só tinham paralelo com as obras do seu contemporâneo John Constable (1776-1837): os grandes pintores românticos do Reino Unido. E, nas palavras de Simon Schama[1], “Turner é, acima de tudo, um dramaturgo da luz, o mais estupendo que a Inglaterra produziu”. Turner é, sem dúvida, um dos grandes pintores do século XIX, período de grandes transformações sociais e culturais. O romantismo brotou da interacção do indivíduo com a natureza, e com a sua natureza, como forma de expressão artística. A arte romântica testou os limites do eu, exacerbando-o. Ao mesmo tempo foi sondado o lado mais oculto do ser humano tornando-o mais evidente: o carácter, os sentimentos, a dor e a penosa existência do Ser. Esta vertente egocêntrica dos românticos levá-los-á a enveredar por caminhos solitários e sombrios: no refúgio contemplativo de, Caminhando sobre o mar de névoa (1818) de Caspar Friedrich; na complacência melancólica e soturna da música Robert Schumann (Traumerei Op. 15); na desilusão do ideal revolucionário na obra Guerra e Paz de Leo Tolstoy, pelo Pierre Bezukhov inicialmente um adepto fervoroso dos ideais saídos da Revolução francesa[2]; nos horrores da guerra, de que Goya retrata com veemência as atrocidades em O Fuzilamento de 3 de Maio (1808); nas causas políticas d’ A Liberdade guiando o povo (1830) de Delacroix; no “morrer por amor”, recuperado do medievalismo de Tristão e Isolda (ópera em três actos, 1865) de Richard Wagner; no assombro da natureza Entre as montanhas de Sierra Nevada, 1868 de Albert Bierstadt; no lânguido e doentio perfil romântico de O Pesadelo (1790-91) de Johan Heinrich Füssli; no simbolismo mórbido e extremado da Ilha dos Mortos, 1880, de Arnold Böcklin. Em suma, na dispersão do carácter individual constituindo-se como a principal leitmotiv da faculdade de espanto: o sublime. É nestas forças poderosas da natureza romântica que o sublime, podendo ser uma mescla de assombro, horror e deleite, se estabelece “na racionalidade necessária entre os homens e na certeza assustadora da morte[3]”. A Morte será, talvez, o tema mais perseguido pelos românticos: eles morrem erraticamente por causas.
E é em Turner, na pintura em apreço, que a morte assume o ideal romântico com maior acuidade e originalidade. A morte apresenta-se como uma obra aberta, derrotada, inacabada, literalmente inacabada... em William Turner. Mas, o que terá levado Turner a pintar este quadro? O tema é seguramente a Morte. Supõe-se que terá sido pintado entre 1825 e 1830, período em que se sucederam vários infortúnios na vida do artista: a doença da mãe, internada num hospício, a morte do amigo Walter Fawkes, em 1825, e quatro anos mais tarde, em 1829, a morte do pai e, para completar o seu estado anímico, o facto do seu estado de saúde se ter agravado, recorrendo a “estramonina, substância narcótica extraída do estramónio, que excitava ainda mais sua imaginação sempre hiperactiva[4]”. Todos estes acontecimentos poderão ter concorrido para que Turner pintasse este quadro, que não está assinado, nem datado! O próprio título pelo qual é uma presunção a posteriori. Ao longo do tempo assistimos à transformação de um Turner figurativo, com preocupação pelos detalhes, para algo completamente diferente, uma pintura difusa a explorar cada vez mais a plasticidade, i.e., valorizando os materiais e a maneira como eles são utilizados.
De todas as pinturas observadas na Tate Gallery, em Londres (1988), este quadro foi o que mais nos impressionou. Não tanto pelo formalismo representativo, mas pela descontinuidade técnica e pictórica. Turner utilizava, normalmente, tinta a óleo, em camadas sucessivas dando corpo à pintura, em várias demãos, rasgando o espaço cromático em sulcos provocados pelas rápidas pinceladas. A utilização de outros materiais e ferramentas, como a espátula, ou mesmo recorrendo às unhas (ele tinha orgulho em mostrar as unhas encardidas cheias de tinta), adensam a tensão corpórea tornando a pintura pastosa, porém, luminosa e vibrante. À medida que o uso de cores quentes, nomeadamente os vermelhos, os ocres e os amarelos, ganham maior acuidade [nesta série de trabalhos] o seu carácter irascível é introduzido com agressividade nas suas telas, tornando-as cada vez mais ambiciosas e visionárias[5]. Nesta pintura apresenta um esboço de um cavalo sugerido pelas diversas velaturas finas e transparentes. A outra figura, um esqueleto, deitada no dorso do cavalo apresenta maior detalhe no desenho, podendo ser identificado como a Morte, o último dos quatro Cavaleiros do Apocalipse! Formalmente a composição ocupa praticamente a primeira parte superior do quadro deixando a outra metade num vazio [pouco compreensível a nível formal e estético], quiçá, ainda à procura de um fim. Adensado por uma paleta de cores muito próxima e pela anulação do detalhe [desenho] das figuras, reforça o efeito misterioso e terrífico, ao mesmo tempo. A morte, saída de uma atmosfera encoberta [utilizando uma mancha preta; forma recorrente para aglutinar a composição] encontra-se prostrada e de mãos caídas. Aparece aqui derrotada, caindo do dorso do cavalo como se fosse um fantasma. É uma luta entre a Morte e o artista. E quis o destino que este quadro não passasse de um esboço, de um transcendente borrão, conferindo-lhe contemporaneidade.
É uma sublime obra inacabada!
Texto: 1988-2020 © Luís Carvalho Barreira
[1] O Poder da Arte, Companhia das Letras, São Paulo, 2010. pág. 288.
[2] Outros exemplos: na 5ª sinfonia, hino à alegria, de Ludwig van Beethoven que inicialmente a dedicou a Napoleão Bonaparte, inscrevendo seu nome na partitura e posteriormente rasurada, assim como na destruição do busto do imperador num acto de fúria; e, por fim, na obra de um ilustre pintor português, Domingos Sequeira (1768-1837), que foi, sucessivamente, partidário da invasão francesa pintando uma alegoria, Junot defendendo a cidade de Lisboa (1808), da aliança inglesa (Apoteose de Wellington, 1811), da revolução liberal (retratos de 33 deputados, 1821) e da Carta Constitucional (D. Pedro IV e Maria II, 1825). Uma época conturbada socialmente fazendo com que os desenhos das nações se fundamentassem por vínculos ao passado distante, medieval, como forma de legitimação das nações: os nacionalismos.
[3] Schopenhauer, 1788-1860, p.59
[4] O Poder da Arte, Companhia das Letras, São Paulo, 2010. pág. 288.
[5] “Certa vez, sir George Beaumont o criticou por inaugurar “a escola branca”. Agora dizia-se que ele era vítima da “febre amarela”, caso de Mortlake Terrace (1827), paisagem sobre o Tamisa envolta numa luz dourada”. in O Poder da Arte, pág. 301.

Intervenção na obra de William Turner
2010 © Luís Carvalho Barreira
Morte num Cavalo Pálido
cerro os olhos
para melhor ver
os espaços vazios do silêncio
braços estirados
em drapeadas velaturas
formas submissas derramadas
sobre o dorso esmaecido
a Morte chegou num Cavalo Pálido
assombração advinda
de reverberações tumultuosas
descobertas pelo rasgar da espátula
e pela a inquietação do génio
fecho os olhos
para melhor sentir
o lugar preenchido de poesia
2010 @ anartchist

Luís Barreira
malmequer, 1989
Paris
série: odegráfica
Fotografia / Poema
arquivo: 2019_06_09_NK2_5002
m a l m e q u e r
o malmequer
mal me quer
bem me quer, mal
me quer
bem-me-quer
o amor que despetala
o meu Bem, mal me quer.
Incrédulo
escuto o meu Bem
desnudar-se em bem-me-quer, mal-me-quer
o malmequer.
se o meu Bem me quiser
mal
deito-me com o malmequer
Poema, 1989 © anartchist
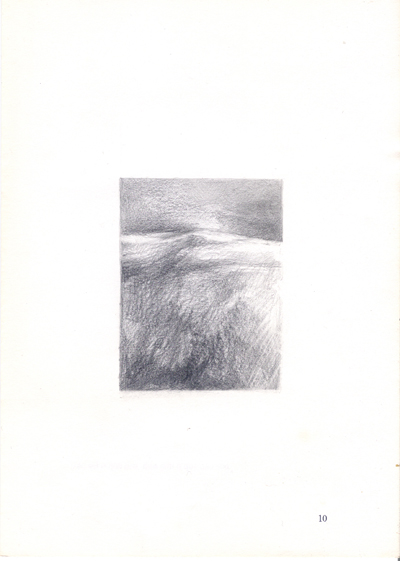
Desenho de Ana Guerreiro, 1991
Antes, era nada
Na finitude de ser coisa, com nome
Incapaz de ver o nada
donde fui tirado, revelo um segredo
onde estou mergulhado:
Serei Nada

foto: Luís Barreira
Uma nêspera
estava na cama
deitada
muito calada
a ver
o que acontecia
chegou a Velha
e disse
olha uma nêspera
e zás comeu-a
é o que acontece
às nêsperas
que ficam deitadas
caladas
a esperar
o que acontece
Mário Henrique Leiria, Novos Contos do Gin, 1978, p. 31
Sensus extremus

Foto: Luís Barreira
Ensurdece, demasiado ruído
Apaga, demasiada proximidade
Cega, demasiada luz
Regela, demasiado frio
Enfraquece, demasiada liberdade
Incomoda, demasiado prazer
Desagrada, demasiada melodia
Paralisa, demasiada beleza
Ofusca, demasiada perfeição
Enlouquece, demasiado pensar
Corrói, demasiado sentir
Anestesia, demasiado amor
Abala, demasiada verdade
Gasta, demasiado tempo
…
Não sentimos os excessos
Texto de Luís Barreira, 1991

Luís Carvalho Barreira
Publicação: ODE1O - ensaio gráfico
Fotografia: 1991
de rerum natura
As árvores da minha terra já não morrem de pé…
morrem nas manhãs frias de nevoeiro
morrem numa paleta policroma já perdida
morrem num tempo esculpido por uma soturna melancolia
morrem no ocaso da memória continuamente vivenciada
morrem na toponímia de um corpo consumido
morrem
morrem as minhas raízes silenciadas dentro de mim.